Foto: Reuters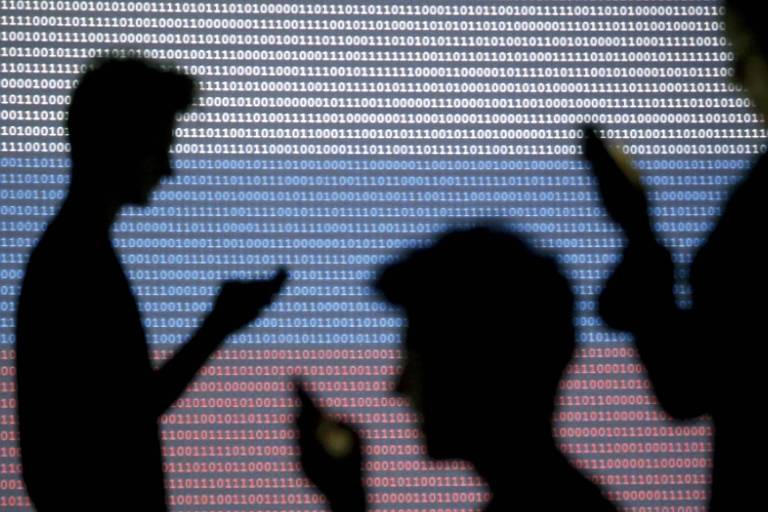
Por Matheus Medeiros
Rio de Janeiro
A quarentena provocada pela pandemia do Covid-19 ampliou inesperadamente nosso tempo livre. Quase todo mundo passa por ele, seja nas redes sociais, na televisão ou outro meio. Mesmo que as responsabilidades profissionais e familiares permaneçam, todos reservam um tempo para se entreter com algo. O que fazemos no tempo livre geralmente não é considerado como tendo tanta importância, é visto como estando à parte de nossa vida profissional, um intervalo do mundo do trabalho, que, separado dele, nos permite aliviar o peso da rotina. Mas será que é isso mesmo?
O filósofo Theodor Adorno pensava o tempo livre como indissociável de seu oposto, o tempo de trabalho, como uma extensão do mesmo. A própria noção de tempo livre e a sua separação do tempo de trabalho é, na verdade, uma consequência de outra divisão: a divisão social do trabalho entre proprietários e não-proprietários dos meios de produção. Essa divisão, faz com que o trabalho, para a grande maioria dos trabalhadores, seja nada além de uma atividade repetitiva e mecânica, que torna sua relação com os demais coisificada (o indivíduo precisa se vender e se relacionar não enquanto ser humano, mas enquanto mercadoria, coisa).
O tempo livre, então, torna-se para nós uma tentativa de distanciamento do tempo de trabalho, mantendo, no entanto, a mesma estrutura temporal de repetição, apreciação dos mesmos conteúdos e atividades sempre iguais, que nada produzem de novo ou singular. Nessa empreitada, o tempo livre, ao mesmo tempo que serve para recuperar a força de trabalho do trabalhador, também restringe sua possibilidade de experienciar algo além da repetição automática, por meio do bombardeamento de inúmeros produtos e serviços culturais que se apresentam como “a novidade”, como “a experiência única”, mas que reproduzem sempre uma mesma lógica de entretenimento fácil e homogêneo, que nos prepara para a experiência sempre igual do tempo de trabalho, como seus auxiliares.
Já é conhecida a enorme concentração econômica da indústria cultural. Na grande mídia, meia dúzia de famílias controlam diversos canais, revistas e rádios no Brasil. No mundo da internet, os monopólios do Facebook e Google compram todas as concorrentes e são proprietários das principais plataformas digitais como YouTube, Instagram, Waze, WhatsApp, etc. O mesmo acontece na indústria cinematográfica e fonográfica.
Tal acumulação de capital gera também uma imensa concentração de conteúdo. O capitalismo tardio em que vivemos hoje exige a padronização das produções culturais distribuídas ao povo, tirando de circulação grande parte das manifestações mais criativas, experimentais e revolucionárias. Podemos citar, como exemplo os blockbusters de Hollywood com suas pirotecnias visuais, os livros bestsellers de empreendedorismo ou autoajuda que, de tempos em tempos, esgotam nas livrarias (as que ainda existem), ou ainda os grandes sucessos do pop ou do sertanejo universitário, que reproduzem narrativas amorosas tão clichês que se tornam paródias dramáticas. Todos esses produtos repetem-se de modo incansável na mídia, sempre apresentando-se como o novo, o inédito, mas tendo, na verdade, as mesmas estruturas estéticas absolutamente homogêneas.
Chegamos, enfim, às redes sociais, que não deixam ninguém escapar de sua realidade própria: fotos, textões (que, ironicamente, há pouco tempo não passariam de textinhos), frases soltas de desabafo e memes repetem-se num ciclo sem fim toda vez que acessamos a internet. Tudo isso agrupa a forma peculiar de comunicação que passa a integrar nosso dia-a-dia, mas que, sobretudo, contribui para ocupar nosso tempo livre.
O ponto mais importante a se destacar de todos esses fenômenos é, sem dúvida, como essas formas de entretenimento, em que pese sua utilidade prática para comunicação e disputa de ideias, tem como função ideológica primordial minar qualquer reflexão um pouco mais atenta para algo além do “sempre-igual”, tirar o sentido de qualquer experimentação imprevisível e tornar antiquada e impotente toda a crítica radical. Mesmo durante as experiências aparentemente mais conscientes, como são as do “tempo livre”, diz Adorno, “a própria necessidade de liberdade é funcionalizada e reproduzida pelo comércio; o que elas querem lhes é mais uma vez imposto. […] as pessoas não percebem o quanto não são livres lá onde mais livres se sentem, porque a regra de tal ausência de liberdade foi abstraída delas”.
A questão, certamente, não é a mera recusa a qualquer tipo de entretenimento de massa, mas entender os limites de seu consumo, visando uma postura mais consciente com o que é distribuído para nós. Existem diversos filmes, músicas, conteúdos digitais e atividades no geral que nos põem diante do inesperado, do surpreendente e alimentam a prática da liberdade e da dúvida.
Se a única solução definitiva é pôr fim às relações sociais de exploração que fundamentam nossa sociedade e construir o socialismo, a condição de possibilidade para isso é buscar reproduzir nossa vida e organizar nosso tempo em torno de atividades que nos tirem da posição de mercadorias indiferentes e nos chamem para experiências efetivamente desafiadoras.